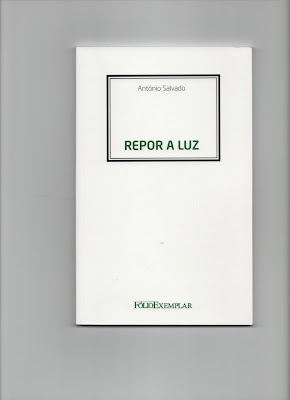sábado, 31 de dezembro de 2011
sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
TEMPOS DE HOJE
Eles "andem" aí
Cynthia Guimarães Taveira
“Está a nascer um Portugal europeu, que é um país com uma mentalidade racionalista, que apenas valoriza a eficiência, e no qual a transcendência não tem lugar. Dar sentido à vida, hoje em dia, é gozar a vida. Gozar a vida é ir para a farra, é ir ao futebol, beber umas cervejas, ter uma grande actividade sexual, ir ao Brasil apanhar sol. O homem está reduzido a um corpo, a carne, o canal do Estado mostra reportagens sobre trocas de casais, que sentido tem isto?”
Miguel Real in Noticias Magazine, 15 de Junho de 2008Pois é, Miguel Real, eles “andem” aí, este novo e valoroso povo, alimentado desde o berço a telenovelas brasileiras, baralhado na gramática e no pensamento, baralhado nesta dupla identidade em que nenhuma é Portuguesa: ou personagens de novelas irreais com sotaque apelativo e a imitar, ou personagens europeias (seja lá o que isso for) com palavras americanas que se atravessam nos gestos dos loosers e dos winners. Personagens e não pessoas.
Eles, são esta nova, e perdoem-me a expressão, chungaria que ascendeu socialmente, vinda directamente das profundezas de um qualquer lugar muito abaixo do povo, pois o povo sempre teve dignidade e sabedoria. O povo já não existe. O povo português desapareceu ou os últimos espécimes estão encravados em lares ou perdidos em aldeias desertas.
O novo Portugal é profundamente democrático, pois esta nova gente, de geração espontânea, ascendeu e espalhou-se por todos os quadrantes, desde as novas cidades coladas às antigas, subúrbios sem lei nem roque, à classe política que passou directamente da aldeia e dos passeios de burro para os carros topo de gama, num ápice de quinze ou vinte anos, sem tempo sequer para aprender a comportar-se no parlamento.
Portugal, neste momento, está reduzido a uma bola de espelhos de discoteca, reflectindo tudo ao mesmo tempo, em danças de Pavlov, drogas rápidas, jet sets fulminantes, miséria exterior e interior e bem presente numa auto-flagelação repetitiva a caminho do abismo.
Eles “andem” por aí e falam exactamente assim. Trocam os verbos, os nomes, os adjectivos e poupam na língua de telemóvel -- e quanto mais a poupam e a reduzem a cliques de sucção, mais a perdem, mais acordos ortográficos luminosos assinam, mais a sua pátria é o acordo ortográfico.
Perante tal ascensão, toda e qualquer teoria da conspiração deixa de existir. Toda e qualquer uma já não é necessária, já se cumpriu, porque eles “andem”, “andem” muito e cercam o pais a pouco e pouco.
A política tem uma identidade parecida com a de dois grandes grupos de futebol, e em plena campanha já vi quem votasse em “x” por ser mais bonito. Venham as plásticas, urgentemente, salvar o país da hecatombe das rugas e venham todos dançar ao som da nova dinastia de Armadouro, com o Tony e o Mickael Carreira a conduzir os passos românticos da nação, e o Quim Barreiros mais à frente, esse com nome português, novo Infante de panela e bacalhau na mão, dando novos mundos ao mundo. E já agora não venham comigo, venham vocês “mais” eu, que “comigo” é uma palavra antiga e estamos cá para somar vitórias. E a culpa é desta maldita traça que gira e gira no candeeiro de três lâmpadas. A traça é alma portuguesa.
Somos um povo auto-flagelado nestes tempos em que o mundo deixou de ser vasto para se tornar num ponto do cosmos, numa qualquer imagem de satélite. Auto-flagelamo-nos desde que D. Sebastião se perdeu nas areias movediças dos sonhos e, neste longo velório, convinha que nos lembrássemos, um a um, da palavra dos mestres sobre o nosso povo.
Há quem defenda uma espécie de refundação do nosso país. Partir do zero e começar tudo de novo. Mas qualquer fundação, para ser válida, começa na leitura simbólica do lugar. Onde está uma montanha, está um provável lugar de ascensão, de contacto com os céus; onde corre um rio, há a probabilidade de fertilidade; onde está uma árvore ampla, há um lugar de reunião e de encontro. Funda-se a partir do lugar, e o nosso lugar, Portugal (por enquanto), é esse rosto “esfíngico e fatal“, olhando o mar, é essa Serra da Estrela apontando a estrela polar, são esses monumentos megalíticos, passagens, portas para o céu, são essas cabeças de cavalo e de ave na gruta do Escoural lembrando os velhos xamãs, são essas duplas espirais incrustadas em pedras que incorporam tão bem esse movimento de saída e regresso a nós, e ainda são essas Ophiussas, serpentes clandestinas que ainda hoje se passeiam nos quintais, nas hortas e na serra da Lua, é esse granito sereno e imponente do Norte e essa planície ao Sul, no Alentejo, apontando sempre mais além do horizonte.
Para refundar Portugal é necessária a arqueologia da terra e, também, esse mar como espaço para o imaginário, para o futuro. Mas a vontade da traça dança mais alto e quer queimar as asas em estâncias turísticas, em campos verdes, lisos, de golfe, em auto-estradas para não-lugares, em prédios rápidos, insufláveis e altamente perecíveis. Ama-se a América, não se ama Portugal.
Outra lâmpada ardente, na qual Portugal se vai diluindo, é a língua. Fernando Pessoa gritou o canto do cisne chamando à pátria a sua língua. Mas não vamos necessitar mais da nossa língua. Um brilhante comentador político de olhos azuis disse que a próxima potência era o Brasil e que, por isso, nos convinha submeter ao seu modo de escrever (e de falar, claro), e uma brilhante Ministra com olhos achinesados pensa que actualmente o Inglês é a porta aberta para o mercado de trabalho e, consequentemente, para a felicidade. Eles amam o Brasil e a Europa Nórdica, mas não amam Portugal.
A terceira lâmpada, essa absolutamente irresistível, é a educação. O papel do professor vai tornar-se cada vez mais secundário até que um dia se alcance o seu desaparecimento total. Se não, vejamos. O Ensino está cada vez mais semelhante à fast-food. A qualidade do primeiro ciclo deixa muito a desejar, pois com estas psicologias baratas nos modelos de aprendizagem os garotos acabam por fazer uma quarta classe da qual saem sem saber ler e escrever como deve ser. Depois vem o segundo ciclo, normalmente caótico, sem uma fase de adaptação, com mochilas sobrelotadas de livros, dossiers, cadernos de actividades e sei lá que mais, tudo devidamente acompanhado por quilos de imagens para ilustrar bem todas as matérias e todas as disciplinas.
Os miúdos, hoje, não sabem pegar num livro sem imagens porque na escola só lhes dão livros aos quadradinhos e porque o ensino deve ser muito "lúdico". Os manuais de Português são deveras interessantes nos disparates que contêm, desde perguntas sobre textos sem sentido, até textos sem sentido perante os quais não é possível fazer uma pergunta decente, mas isso é apenas um pormenor sem importância nenhuma, pois a língua portuguesa tende a desaparecer face aos interesses do acordo ortográfico, e aos interesses obscuros de alguns linguistas que, não tendo um bom livro para ler, se vão distraindo a reformular a gramática até atingir delírios teóricos deveras abstractos, o que lhes dará, por certo, muito prazer, mas, por outro lado uma amnésia total da "velhinha" gramática, que embora "velhinha", era o motor de uma quarta classe com muito mais qualidade do que a de hoje em dia. Ou seja, a velha gramática funcionava perfeitamente porque era de uma lógica acessível. Esta assemelha-se à arte contemporânea, não tem sentido e ainda por cima não utiliza a estética que existe na língua portuguesa.
Os alunos assim vão caminhando (ou rastejando) até ao nono ano. E eis que o Ministério se lembrou de dar "novas oportunidades" a quem nunca as teve (será??? -- aquilo que há hoje em mais quantidade é a possibilidade de estudar!). Assim foi criada a nova oportunidade no ensino e esta consiste em tirar vários anos lectivos em poucos meses.
Primeiro, o "desajustado social" inscreve-se, tem umas aulas (muito poucas) de preparação. Estuda um dossier (verdadeiramente genial -- um dos exercícios a que tive acesso era o de ir a um multibanco e levantar dinheiro e depois escrever o que se tinha feito!) E eis que, em poucos meses, pode ter o 12º ano e ir para universidade (pobres professores universitários!). Ou seja, a fast-food do ensino nunca funcionou tão bem. Depois, com o "diploma” do 12º ano na mão, chega, finalmente (veja-se o tempo que demorou) à faculdade, de onde sairá "com mais oportunidades de trabalho - boa anedota: basta ver o número de desempregados licenciados - mas é tudo uma nova oportunidade!).
Chegando lá, já não se depara com aquele ensino mais sério e pesado, não senhor, depara-se com o Acordo de Bolonha! Ei-lo, vivo e tão incandescente que cega: onde antes havia uma cadeira anual, agora está uma apenas semestral, onde dantes se lia a Ilíada e a Odisseia, agora lê-se apenas um capítulo de cada porque "não há tempo para mais", saindo de lá com um conhecimento verdadeiramente exemplar, os engenheiros podem construir pontes (que caem -- as dos romanos ainda estão de pé!) e os restantes, com uma cultura menos técnica, têm o seu lugar cativo num restaurante de fast-food, acabando por fazer jus à sua formação, também ela de fast-food.
O papel do professor, como disse acima, vai deixar de ser relevante porque agora somos todos "pró-activos" (as inteligências que usam o termo “pró-activo” ainda não perceberam que ele quer dizer "a favor da acção" e não propriamente "activo", são pró, não são activos nem deixam de ser -- o "americano" é uma grande língua!); e sendo todos pró-activos também somos inter-activos, e interagimos já não com o professor ou com os colegas mas sim com um grande ecrã projectado na parede.
Este novo professor, a "parede" é utilizado nalgumas escolas em Inglaterra e ameaça conquistar as restantes escolas europeias. O professor, quanto muito, é o "ponteiro" que aponta para o verdadeiro "professor": a parede, e aquilo que é o essencial do ensino, uma troca de vida e de experiências entre professor e aluno, troca absolutamente irrepetível, única e fundamental para a educação, vai pura e simplesmente deixar de existir porque o computador fala mais alto. Fala tão alto que, hoje, os trabalhos dos alunos muitas vezes se limitam e um "copy"/"paste", como dizem, para dar situações surrealistas -- como aquela a que assisti há uns dias, de uma aluna que apresentou um trabalho que acabava assim: "para ver mais clique em baixo". Só que aquilo era uma folha, não se podia “clicar“, era apenas uma cópia de um texto que nem tinha sido lido pela aluna. Vindo direitinho da Internet.
Sim, eles amam Inglaterra e a Finlândia, mas não amam Portugal.
Às vezes, voltar atrás não é andar para trás, é andar para a frente. Quando a traça se transformar em borboleta e começar a amar o seu território, a sua língua e a sua educação, dar-se-á um grande e gigantesco passo atrás. Para variar. E nessa altura, só nesse dia será a Hora e um vasto horizonte se abrirá com o vento a nosso favor.
Junho, de 2008
quinta-feira, 29 de dezembro de 2011
LEITURAS DE EDUARDO AROSO
REPOR A LUZ de António Salvado
Eduardo Aroso
Viseu, 26-12-2011Nunca o amor é débil quando a chama
que o alimenta fulge apaixonada
com faúlhas ardentes que o amparam
e o mantêm fiéis acarinhando-o.
(…)
ressuscita animoso e complacente
porque à fraqueza entrega novo sangue
que posto a circular mais o inflama.
A.S.
Com generosa dedicatória, recebi do poeta António Salvado uma das suas mais recentes obras, intitulada REPOR A LUZ. Dádiva – que neste tempo natalício se junta a outras - sendo todavia, ela mesmo, o melhor da pulsão criativa do poeta. Os Magos ofereceram ao Menino o que de melhor tinham, como essência da alma, e quando acontece a um poeta derramar pelos outros os seus melhores versos – afinal, o seu ouro, incenso e mirra – está, salvo a devida distância, a realizar o mesmo acto simbólico dos Reis do Oriente, e também como aquele outro o da oblação das primícias nos antigos rituais, reconhecimento humano pela eterna e cíclica dádiva, consequência da paternidade espiritual sempre vigilante às necessidades do homem. Noutra imagem, mais prosaica mas não menos verdadeira, a essência do fruto é alheia decerto ao modo como este nos pode chegar às mãos. Não foi porém, como disse, o caso de REPOR A LUZ, carregado de um traço de afecto e amizade, antecedendo os luminosos poemas, qual aroma de brisa que chega ao ansioso caminhante quase a atingir o miradouro alto, para aplacar a sua sede de olhar o longe…
O título do livro, REPOR A LUZ, por si só já nos remete à meditação no que hodiernamente se cruza, com insanidade, no homem: a desatenção entre luz e cor, mas muito principalmente entre a luz artificial que preenche a urbe, nas vinte e quatro horas, e a natural que nos permite a absorção da vitamina D e metabolismos vários. Todavia, o maior dos benefícios da luz do sol é o de nos fazer pensar que, enquanto fonte única, é a âncora de última instância para todos os estados caóticos que o ser humano pode desencadear, seja no plano físico, emocional ou mental. Os mistérios da luz sempre estiveram nas preocupações metafísicas e científicas de altos espíritos como, por exemplo, Goethe que concluiu que a luz é invisível, sendo o que vemos como luz, apenas a “sua sombra”. Não nos deve causar admiração, pois João, o Amado discípulo, disse «Deus é luz», e todas as passagens das Escrituras são unânimes ao afirmarem que «Deus é espírito» e só em espírito dever ser adorado.
O facto do presente livro de António Salvado não constituir por assim dizer preocupação axial, neste sentido místico e teológico, pois ao poeta importa substancialmente a poesia, remete-nos todavia, com a subtileza de uma lírica superior, para a questão da luz como consciência. Ou seja, o grau de consciência sempre definiu o ser humano por dentro, imune ao enganador e porventura efémero exterior. Creio que o título do livro significa essencialmente para o poeta, enquanto artífice da sua poesia, a luz da sua continuidade criativa consciente, e por estas palavras evitamos dizer persistente ou insistente, quase em batalhadora forma ou jeito dialéctico. Um rio, deslizando, por certo não sabe que desliza, mas o poeta autor de REPOR A LUZ está consciente que tanto é possível andar nela como dela se afastar, nem que seja temporariamente.
O pouco tempo que tive para a (s) leitura (s) que o livro merece, permitiu-me todavia colher uma impressão que certamente se fará mais clara num futuro breve, mas que, desde já, não deixa dúvidas: o poeta, glosando na generalidade os seus temas habituais (Não fugirei de mim, assim começa um dos seus poemas) ao subir, digamos assim, um grau mais acima, um pouco mais na inefável escada da sua consciência de luz, acaba inevitavelmente por alcançar uma poesia mais luminosa na medida em que vê, revê, vive e revive lugares e acontecimentos com olhos para outra luz ou, na inversa, uma visão adaptada à única luz. Seja como for, é cada vez mais consciente de que o essencial – para o qual deseja sempre mais luz – foi por ele bem traçado e não pode ter descanso, salvo os naturais erros de percurso. «Por vezes súbito engano/ a voltar atrás obriga/ mas alento retomando:/ em frente por outra via».
No que venho acompanhando durante vários anos da poesia de António Salvado – que será sempre pouco para tão extensa, formada e firmada obra – ainda que tenha que me “banhar” mais vezes em REPOR A LUZ, a impressão é a de que estamos perante uma das suas obras poéticas mais fluentes, talvez, mas não só, pela temática da luz, versos vivos e movidos como são as próprias nuances da luz, e quando digo fluentes tenho sempre presente a experiência do que é passar várias vezes por caminhos por onde andei em tempos outros. Poesia, dir-se-ia imunizada, a de António Salvado, isto é, em que nada parece poder interromper (e corromper) o fluxo que começando só naturalmente cessa, sem intromissão de elementos estranhos ao próprio poema. «Rasga a penumbra, vê imensidades/ em cada gesto próximo de ti/ e cruza o teu olhar com outro olhar/ e aperta a mão que te será estendida/. Alinha os passos com um par igual/ e caminhando pela mesma via/ troquem palavras mas que sejam frases/ com devoto calor reconstruídas.» (…)
REPOR A LUZ constitui uma renovação do compromisso do poeta com o poeta, porque repor a luz na nossa vida significa ter consciência de que, na imagem da árvore, não deverá existir cisão entre folhas, troncos e raiz. A essência do amor, isto é, do amor imanente – para além do qual pouco ou nada sabemos – é certamente o da entrega, nesse sublime e íntimo ritual interior no qual encontramos o (s) outro (s), por muitos e diversos modos. É o que nos diz o primeiro (como poderia ser o último) poema deste livro de António salvado: autêntico porque nele o outro também mora.
AINDA QUE SEM NADA…
Ainda que sem nada ofereço amparo
a quem me roga um laivo de conforto
e nesta via branda d’humildade
procuro caminhar silencioso,
porque dei tudo sem cobrar migalha
que me curasse a ânsia de repor
a luz onde faltou o cintilar
da confiança num porvir mais doce.
E humilhado também voltei a cara
fingindo alheamento ao desconforto
causado por pasquins de mal-supor.
Continua porém a minha dádiva –
que só não é vingança funda clara,
porque em mim vela e sempre o mesmo rosto.
António Salvado
terça-feira, 27 de dezembro de 2011
PROSAS DE POESIA,1
A teia
Alexandra Pinto Rebelo
Há linhas invisíveis que se deslocam no tempo. Há fios de nada lançados tempo fora, fios de cores pálidas feitos de luz. Quem os emite sabe que o fez. Ou pelo menos, do alto da torre mais alta do seu palácio, ou castelo, num preciso momento, sabe que o fez.
Esse instante é difícil de definir. Talvez nem seja um instante, mas o intervalo entre todos os instantes, sem medida de tempo possível. Nem é um tempo, é um sentimento. O grande indizível, lançado por quem o sente, em fio feito de luz de cor pálida. Feito isto, o rei retira-se para o interior do palácio, onde já terão dado, certamente, pela sua falta.
E o fio segue, tempo fora.
Certa vez, andando ao começo da manhã, senti como que uma teia de aranha tocando-me na pele. Antes de tentar removê-la, senti a vontade de D. Dinis em saber do seu país. Se o futuro já era um imenso Templo erigido para o Senhor. Durante três dias por ali fiquei sem saber o que fazer. De pé, com a mesma expressão, na sucessão das horas. Apenas movimentava os olhos tentando compreender o que tínhamos feito. Onde estava o Templo? Claro que o tínhamos feito, senti. De tão extenso tomara todos os lugares. De tão vasto confundira-se com a cidade profana. De tão profético misturara-se com todos os tempos.
sexta-feira, 23 de dezembro de 2011
DESEJOS DE...
Boas Festas e de um Ano Novo com paz, sorrisos e Esperança por parte de todos os que participam neste blogue para os seus leitores.
O CAMINHO DO CAMINHO, 23
Enigmas no Caminho: Animais totémicos
Cynthia Guimarães Taveira
Diz um textinho alquímico (do qual não me lembro bem, nem qual é, nem aonde li, porque são muitos) que o homem contém em si todos os animais. De facto, conseguimos imitar todos os animais mas o contrário não se passa. Duas mãos projectadas em sombra sobre uma parede são suficientes para fazer nascer uma águia, um coelho, o que quer que seja.
António Telmo não gostava nada de insectos porque, dizia, eram animais diabólicos. Para ele a simetria dos insectos correspondia a uma perversidade que facilmente se poderia projectar no ser humano. De facto, as sociedades totalitárias aproximam-se muito da simetria. Basta ver a arquitectura dos fascismos e dos comunismos para se constatar essa ideia de simetria um pouco claustrofóbica, bem como a simetria das marchas dos exércitos dessas sociedades, e ainda a simetria nas hierarquias que sempre se impõem mesmo quando é uma sociedade socialista. A mecanização do homem anda a par com a forma como algumas colónias de insectos se organizam. Um centro (uma rainha), para a qual todos trabalham de maneira a manter um esquema social extremamente viciado.. São sociedades fechadas sobre si próprias que, no fenómeno humano, acabam sempre por se abater sobre si próprias. No entanto, pela minha parte, gosto de observar os insectos e a sua variedade quando me afasto um pouco deste olhar mais geral de António Telmo. A variedade de insectos é extraordinária. Assim como a variedade dos restantes animais.
Muito comum é noção de totem. Uma pessoa ou um grupo, adoptam um animal totémico (ligado à sua mitologia) e, a partir daí, tabus e adorações giram em torno desse animal.
Os novos grupos neo-pagãos também têm tendência para a identificação com determinados animais, quer em termos gerais (alguns deles vindos da mitologia e folclore europeus), quer em termos particulares, ao ponto até, de nesses novos rituais, só poderem entrar pessoas que já tenham descoberto qual o seu animal totémico. Equipara-se uma pessoa a um animal, o que, na minha perspectiva é um pouco redutor, até porque a minha experiência diz-me o contrário: são os animais que nos adoptam a nós. Que nos escolhem como um espécie de “totem”, que nos adoram, que nos protegem. Nós temos que fazer o mesmo que os deuses fazem connosco: protegê-los, escutá-los, encaminhá-los para serem mais humanos, assim como os deuses nos encaminham para sermos mais divinos.
Digo isto por causa da minha estranha relação com os gatos, foram eles que me explicaram por a + b como é que as coisas se faziam e de como o totemismo era de alguma forma uma inversão das relações hierárquicas na natureza. Passo a explicar (sei que vou chocar neo-pagãos, mas paciência).
Sempre gostei de cães. Em criança, as minhas tardes eram passadas com cães. Com o cão pai, com a cadela mãe e com os cães filhos, todos pertencentes a uma vizinha. Foi essa paixão, aliás, que me abriu portas para uma linguagem invisível, só possível com o coração. Nunca liguei muito a gatos em criança, no entanto, eles vinham atrás de mim. Onde quer que eu estivesse, fora da minha zona de conforto (expressão que agora se usa muito) aparecia um gato. Nunca os enxotei mas tembém não lhe ligava grande coisa, mas eles pareciam fixados em me acompanhar, apesar da minha falta de jeito para lidar com eles.
Um dia fui ao Egipto, e entre muitas coisas esquisitas que se passaram, sonhei que três gatos cinzentos me mordiam as mãos. Mordiam com tal força e ternura que acordei encharcada em suor, eles estavam a matar-me pela dor! Na altura não entendi o significado de tal sonho. Anos mais tarde, a após algumas perseguições por parte de gatos, eis-me por vias do acaso rodeada em casa de gatos adoptados. Continuam fixados em mim, num diálogo muito próprio, muitas das vezes ligado à justiça pura: com eles não posso ser injusta, pois imediatamente a seguir ou tropeço, ou me magoo “sem querer”, demasiadas vezes “sem querer” para não achar aí um denominador comum. Os gatos, pelo menos os meus, exigem-me a máxima atenção e, em troca, veneram-me, ao ponto de ter chegado à conclusão que o que se passava era o contrário: eu era o humano totémico deles e a nossa relação, era ao invés -- venerando-me, seguindo-me, olhando fixamente os meus olhos, eu, hierarquicamente acima, só tinha que os respeitar, amar, encaminhar, tornando-os os melhores gatos possível, humaniza-los, puxar por eles. Em troca, havia uma relação de “vasos” comunicantes com proporções justas, de causas e efeitos. A justiça e a misericórdia eram rigorosamente aplicadas para ambos, os gatos por vias estranhas também geravam castigos e recompensas, assim como eu gerava o mesmo.
Os cães, que continuo a adorar, vão ter de esperar porque neste momento tenho uma relação estranha com os gatos. A mesma que temos com os deuses, com os anjos, com o divino. A natureza ensina e nós ensinamos a natureza, em espirais de conhecimento e amor. Pã, aparece sempre nas encruzilhadas e, numa linguagem dúbia, propõe-nos que adivinhemos o segredo da enigmática resposta ao enigma da esfinge.
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
PARA SORRIR
"Quanto mais diferente de mim alguém é, mais real me parece, porque menos depende da minha subjectividade."
Fernando Pessoa
Livro do Desassossego
O CAMINHO DO CAMINHO, 22
"Nudas Veritas" de Klimt
Esquemas III
Cynthia Guimarães Taveira
Klimt pintou este quadro ao qual chamou “Nuda Veritas”, nele colocou uma citação de Schiller: “Se não podes agradar a todos com a tua arte, agrada a alguns. Agradar a todos é mau.”
No mundo esotérico, não será diferente, mas muitas vezes o que acontece é exactamente o oposto.
Quando D. Afonso Henriques, segundo a lenda, teve uma visão em Ourique na qual Cristo lhe apareceu, o nosso Rei teve uma reacção absolutamente improvável. Lembro-me de a ouvir relatada pelo Dr. Abel Lacerda num almoço de convívio e as palavras deste relato ficaram-me gravadas: “Quando Cristo apareceu a D. Afonso Henriques, o Rei, interrogou-o desta maneira: - Então Tu mostras-te a mim que acredito em Ti? Tu devias aparecer àqueles que em ti não crêem!”
Em primeiro lugar estas palavras gravadas na lenda revelam uma intimidade com o divino surpreendente. Na tradição judaica, também Deus é tratado por Tu. No musical “O Violino do Telhado”, aquele pobre pai tem conversas com Deus no qual Este é interpelado quase “de igual para igual”, num equilíbrio de forças invulgar. O mesmo se passou com o nosso rei.
Em segundo lugar, a indignação do rei, mostra acima de tudo uma imensa humildade. Porquê? Porque afinal ele encara a aparição de Cristo como algo muito natural.
No mundo do esoterismo, muitas vezes, passa-se o contrário. Os mundos paralelos tocam-se muitas vezes, muitas mais até do que aquelas das quais nos damos conta, mas frequentemente um acontecimento, ainda muito menos importante do que a aparição de Cristo, é logo motivo para o desencadear de muitas e variadas reacções por parte daqueles a quem o divino foi manifestado (isto quando foi, de facto, o divino a ser manifestado e não se trata de simples ilusão…).
Por uma voz que se ouve, por uma luz que se vê, por uma imagem que surge, imediatamente uma reacção megalómana é desencadeada. Surge uma seita, surge uma igreja, surge um guru, surge um “mestre espiritual”, surge uma “nova via”, um novo sistema filosófico, um novo livro, novos discípulos girando em torno de algo que, se calhar, no início, era apenas pontual e importante somente para a pessoa que viveu tal experiência. Daí a proliferação de seitas, de crenças, de sistemas vários que, ao invés de “acordarem”, “adormecem”, pois tornam os homens submissos a um falso centro.
Outra força adjuvante ao aumento da megalomania e ao equivalente adormecimento tem a ver com os graus adquiridos nas ordens ditas iniciáticas. Há que ter em atenção que as ordens iniciáticas são recentes, aquilo que ensina a tradição é que a sabedoria era passada de Mestre para Discípulo. Como isso se perdeu no Ocidente, surgem muitas ordens com um conjunto de símbolos e e rituais, evocando uma tradição arcaica. Já René Guénon pôs o dedo na ferida questionando se haveria, ou não, influências espirituais em tais ordens. Para quem detém os graus adquiridos a pergunta: “Sofri ou não influência espiritual?” deveria estar sempre presente, de maneira a não confundir o dedo que aponta a árvore com a floresta inteira, porque aqui o risco de megalomania interior é muito intenso, para não dizer quase mortífero, pois no exibicionismo de tais graus, degraus, voltas na espiral, andares, escadarias, etc, dá-se o arrastamento dos outros, normalmente muitos: “Se ele ou ela tem tal grau, então é sábio/sábia, é importante e, sobretudo tem influência”. Entre um grau e a baixa magia, às vezes, não há muita diferença. A pior megalomania é a interior, aquela verdadeiramente secreta em que, tal como a rainha má da Branca de Neve, no segredo dos seus aposentos, olha o espelho e diz: “Espelho meu, espelho meu, existe alguém mais iniciado do que eu?” Porque essa arrasta multidões em jogos de influências que pouco ou nada têm de espiritual.
Quando Klimt apresentou as suas obras num concurso para o mundo académico, com temáticas da justiça, da medicina, etc, foram recusadas. Não foi aceite. Mas as obras permaneceram e, ainda há pouco, passados mais de cem anos, cá em casa, estivemos a admirar um bonito livro onde estavam essas imagens recusadas. Parámos na “Nuda Veritas”. Meditámos sobre a tradução de Schiller. A matéria prima com a qual podemos trabalhar a nossa alma está dentro e fora. Está nela própria e está em tudo o que nos rodeia. Não nascemos livres, mas podemos voar para longe de todas as ilusões e a influência espiritual está, muitas vezes, onde menos se espera…
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
POEMAS DE EDUARDO AROSO
CICLICIDADE
Regressar ao musgo do tempo
Onde a vida se agarra
Intensa e firme dádiva.
Voltar à palavra, arado de esperança,
Sulcando a feminina madrugada.
Limpar a terra pelo relento virgem,
Recompondo os braços, purificando os olhos,
Na luz benigna da origem.
Entre a noite e o dia
No frio deserto do mundo,
Crepita a fogueira
Ou a flor da alegria.
Natal, 2011
Eduardo Aroso
O CAMINHO DO CAMINHO, 21
Transgressão e Transmutação
Cynthia Guimarães Taveira
Transgredirias? Transgredirias nu? Não estás sempre nu? Conseguirás estar sempre nu? Genuinamente nu, sem ritos, nem ideias, nem abismos, nem alturas. Assim sujeito como um menino num berço lançado ao rio. Nascendo duas vezes a cada instante. Há tantas transgressões mas só algumas são escutadas. Só algumas são actos de amor genuíno. Amor genuíno, despido, entregue,
vertical. Como um beijo no qual se projecta a alma toda. Como um abraço que é um vôo de liberdade.
No filme “Indiana Jones e a Grande Cruzada” de Spielberg, a fotogramas tantos, o herói é confrontado com um abismo. Entre ele e o Graal, um imenso vazio se estende para baixo. Perante a dúvida, e pensando rapidamente, o herói tem a atitude mais surpreendente e lança-se sobre ele. Surpreendentemente, uma ponte de luz aparece para o suportar. Nos seus movimentos interiores voláteis o herói associou o salto no abismo à fé e, em última análise, a transgressão é um acto de fé como se esta fosse a sua essência.
Porque nada acontece por acaso, no outro dia, dei-me conta de que nada sabia sobre esse Santo a quem foi dado o nome de S. Valentim. Vim a constatar que existiam dois prováveis mas que, no entanto, a lenda girava em torno do amor e da transgressão. Eis uma versão da lenda e suas origens romanas:
A história do Dia de São Valentim remonta a um obscuro dia de jejum tido em homenagem a São Valentim. A associação com o amor romântico chega depois do final da Idade Média, durante o qual o conceito de amor romântico foi formulado.
O bispo Valentim lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, que havia proibido o casamento durante as guerras, acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. O bispo continuou a celebrar casamentos apesar da proibição do imperador. A prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens enviaram-lhe flores e bilhetes dizendo que ainda acreditavam no amor e, durante esse período na prisão, apaixonou-se pela filha cega de um carcereiro devolvendo-lhe a visão milagrosamente. Antes da execução, Valentim escreveu uma mensagem de adeus para a sua amada, na qual assinava como “Seu Namorado” ou “De seu Valentim”. Considerado mártir pela Igreja Católica, a data de sua morte - 14 de Fevereiro - também marca a véspera das lupercais, festas anuais celebradas na Roma Antiga em honra de Juno (deusa da mulher e do matrimónio) e de Pan (deus da natureza). Um dos rituais desse festival era a passeata da fertilidade, em que os sacerdotes caminhavam pela cidade batendo em todas as mulheres com correias de couro de cabra para assegurar a fecundidade.
Esta última parte parece muito violenta mas ela faz parte de uma associação entre a terra e a mulher por parte dos agricultores. Antigamente, era também costume bater-se na terra de maneira a que esta despertasse e se tornasse fértil. Não é violência doméstica…
Bem, mas o que têm em comum estas duas histórias, a do Indiana Jones e a de S. Valentim? A transgressão. Lembremos que é também, por alturas de Fevereiro/Março que é celebrado o Carnaval, lugar de todas as transgressões, herança de festas pagãs. Antes da ordem, da fertilidade, da Primavera, da abundância, parece haver necessidade de se celebrar o fim de um ciclo e a inversão de todas as coisas (homens vestidos de mulher, escravos que se tornam reis, etc.), é a marca de um fim de ciclo: esta conversa é muito parecida com a descrição do fim do mundo moderno de René Guénon, mas neste caso não é isso que interessa. O que interessa é o valor da transgressão e quando é que ela é efectivamente válida.
Se observarmos a vida de alguns Santos, constatamos que, surpreendentemente, muitos deles foram transgressores, só que a sua transgressão não era nula, ou seja: não partia do nada em direcção ao nada. A sua transgressão era sempre feita em nome de um ideal: ou de pureza, ou de amor, ou de sabedoria .A transgressão era uma necessidade. No filme referido, o herói tem três provações: a humildade, o nome de Deus (sabedoria) e a fé (sempre muito ligada ao amor, à morte e à vida), e embora a transgressão esteja presente em todas elas, é na última que esta está mais evidente: nesse salto no vazio. Não é um salto do vazio para o vazio, mas é um salto pelo vazio, o que é diferente, e é essa a confusão que se faz muitas vezes.
Os jovens rebeldes adoram transgredir, e transgridem muito, só que há uma diferença de vazios. A maior parte salta de um vazio para o outro. Estão vazios em casa, vão para o carro, transgridem os limites de velocidade, e encontram o vazio da morte do outro lado. É a chamada transgressão inútil.
Depois também há a falsa transgressão, por exemplo, roubar para seu próprio deleite. É a chamada transgressão para benefício próprio. O transgressor é aquele que retira prazer imediato da transgressão.
E no, fim, há a verdadeira, aquela que, normalmente, numa primeira fase tem consequências nefastas para o transgressor mas que, depois, se torna símbolo da sua própria santidade. Relembro aqui o poema que Eduardo Aroso publicou há pouco neste blogue: “Verás que os punhais de fora/Dentro são um Hino de amor.”
Transgredir por Amor, normalmente, leva a que setas ou pedras sejam atiradas contra o transgressor, mas a lógica do divino e do amor inverte mais tarde as coisas.
Transgredir por transgredir é inútil. Transgredir por Amor, é transmutar. Amor com A grande. O amor nada tem a ver com o fanatismo. Mas tem tudo a ver com o conhecimento… já dizia o Camões.
domingo, 18 de dezembro de 2011
O CAMINHO DO CAMINHO, 20
Esquemas II
Cynthia Guimarães Taveira
Por caminhos tortos e incompreensíveis (agora, finalmente, talvez mais compreensíveis), quis o destino que fosse parar ao curso de Antropologia. Foi bom nuns aspectos, foi mau noutros. O aspecto bom tem, sobretudo, a ver com aquilo a que chamo o “complexo” de Atena. Aí vem ela, acabada de nascer, soltando um grito e erguendo um machado de guerra e eis que o desfere na cabeça dos pobres alunos. É um fim de um mundo. Não mais a nossa cultura, o nosso modo de viver, de pensar, vai ser o único. Pergunta um professor numa aula, em jeito de provocação, “Se num templo hindu vos fosse dito que para lá entrar teriam de se cobrir com bosta de vaca, que fariam?” Todos vão respondendo, trémulos, uns que sim, outros que não. No fundo, é como o livro de Woody Allen, acaba-se de vez com a nossa exclusiva cultura e, nesse fim, nascem em simultâneo todas as outras, uma reviravolta quase ontológica, apreendida e aprendida com dúvidas que se iam levantando sobre nós e sobre os outros.
Lado menos bom: os esquemas, as grelhas. Como se podem tornar Catedráticos distintos, como podem formar Escola, como se podem destacar neste mundo do conhecimento? Só há um caminho: criem uma grelha de interpretação cultural. Se tiverem um esquema que possa ser desenhado, ainda melhor. Não sigam nenhuma Escola, conheçam-nas todas, mas não sigam nenhuma, criem uma só vossa a quem alunos, mais tarde, possam recorrer para fazer os seus trabalhos, ficando assim “limpos” e “escudados” quando forem avaliados. Estarão assim protegidos contra as críticas porque, ao serem criticados, estará também um conceituado nome a ser criticado e a isso muito poucos críticos se atrevem. Foi assim que nasceu o Funcionalismo, o Estruturalismo, etc. Nasceram da necessidade de criação de um lugar de destaque no mundo universitário. Chocante? Nem por isso. É a vida.
Mas será a vida?
Aquilo que há de mais engraçado na literatura alquímica é a variedade. É tão variada, tão variada, que parece não fazer sentido nenhum. Porque é que para a mesma coisa são utilizados tantos símbolos diferentes? Se é a mesma coisa, e é dita ser um conhecimento tradicional, deveria usar sempre os mesmos símbolos. A cada coisa seu símbolo específico. Mas isso não acontece porque… é a vida. E é mesmo a Vida. Com V grande.
Já vi esquemas alquímicos desenhados, assim muito certinhos, muito direitinhos, muito higiénicos, muito científicos. Tudo no seu lugar, excepto uma coisa: quem os desenhou não conseguiu o corpo de glória, nem o elixir da juventude, nem sequer o ouro. Porquê? Porque é a vida…
Daí que qualquer interpretação que se faça de uma obra alquímica tenha de ter em consideração a Vida. Ela vai fazer toda a diferença e derruba os esquemas com um simples sopro de espírito… Porque só assim aprendemos, de facto, qualquer coisa de jeito, qualquer coisa que seja útil para nós e para os outros. E, mesmo assim, alguma coisa nos vai escapar sempre. Muito poucos foram, de facto, abençoados pela santidade verdadeira. Mas alguns conseguiram ser especiais e fazer alguma diferença humanamente qualitativa numa era que se desagrega a olhos vistos.
Por isso, quando se lê essa literatura, teremos sempre de nos lembrar das palavras de Camões: “um saber de experiência feito”, e essa experiência é a própria vida do alquimista que escreve. Daí o paradoxo apontado por Julius Evola, no final do seu livro A Tradição Hermética, (ed. 70, 1979, pag. 219): «A qualidade hermética segundo a qual, no dizer dos alquimistas, os seus textos são como se tivessem sido escritos só para eles, teremos de referi-la em maior grau à sua própria pessoa ou obra.»
Escrevendo em intima ligação à sua experiência, escrevem, em simultâneo, em intima ligação com uma sabedoria tradicional. Daí que seja muito complicado elaborar uma grelha de interpretação. O mundo alquímico não é o mundo académico. Mercúrio está sempre a voar.
sábado, 17 de dezembro de 2011
SABEDORIA ANTIGA, 25
Alexandra Pinto Rebelo
Habituámo-nos a festejar o Natal com os adereços que vimos usar a pais e avós. Todos eles nos fazem sentido. Quanto mais não seja, um sentido étnico, ao nível da imagem. O presépio, em forma de cabana, manjedoura ou gruta, fica mesmo bem perto da árvore de Natal, com as suas fitas coloridas enroladas, as filas de luzes intermitentes, bolas brilhantes penduradas, encimadas por uma estrela radiante. A ceia tem um clima diferente de todas as ceias do ano. A um tempo, é plena de solenidade, alegria, transcendência. Será a última ceia do nosso calendário solar, celebrada entre os “nossos”. Por isso, não causa estranheza lembrarmos de uma forma muito vívida aqueles que deixaram de estar presentes.
Todo este cenário lembra as Câmaras de Curiosidades do barroco. Salas onde se juntavam peças coleccionadas por pessoas ricas, fragmentos de tempos não coincidentes.A árvore de Natal pode ser entendida como sendo um axis mundi, o eixo de ligação da terra aos céus, mas também aos níveis inferiores, ctónicos. O presépio-gruta costuma ser colocado, precisamente, junto ao tonco inferior, passagem para o mundo onde as sementes se dissolvem durante parte do ano, germinando em seguida. A árvore, sempre de folha perene, eleva-se, assistindo a esta metamorfose mistérica. As folhas sao povoadas de coisas brilhantes, bolas, fitas, adquirindo, aos poucos, uma linguagem cada vez mais abstrata. As fitas orientam-se em espirais, estreitando-se em direcção ao topo. Numa vista aérea, teremos uma configuração muito próxima de alguns percursos místicos de certos templos circulares gregos. Por elas, ainda não teremos a verdadeira revelaçao, como nos lembram as luzes intermitentes. A epifania será simbolizada no cume da árvore, no lugar mais perto dos mundos superiores, sendo uma epifania da Luz.
Maria, Mãe de Deus, mostra o seu Menino, aquele que nasceu sem intervenção terrena. Estamos num nível de semi-deuses, contacto reactualizado anualmente, aqui no final do calendário solar, correspondendo, por proximidade, ao solstício de Inverno. O Menino Jesus abrirá essa noite, entretanto tornada mais escura do que nunca, revelando o seu avesso no sol do nosso Verão. Morrerá, entretanto, pela Páscoa, sabemo-lo, ressuscitando em seguida, deixando a João, seu primo, a responsabilidade de voltar a fechar este ciclo de escuridão/luminosidade, em Junho.
Em todos os Natais, em nossa casa, temos um mecanismo simbólico completamente desconhecido, mas absolutamente actuante. Foi através deste mecanismo simbólico que o mundo foi recriado, vezes sem conta pelos nossos antepassados. É por ele que, ainda hoje, temos Mundo e as gerações futuras o hão-de recriar outras tantas vezes sem conta. Por isso nos juntamos todos, na refeição ritual. Todos aqueles que já existiram e existem, observando em Mistério a belíssima actualização do Mundo. E que connosco estejam todos, Maria, Jesus, José, o Homem Verde, Ishtar-Inanna, Ceres, Perséfone, os nossos mortos, os nossos vivos. Todos, independentemente da particularidade que tomaram depois de Babel.
Só todos juntos seremos os suficientes para saborear o travo único da Luz.
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011
O CAMINHO DO CAMINHO, 19
Esquemas
Cynthia Guimarães Taveira
Já vi escrito (e dito) por um nome conceituado do nosso esoterismo que o misticismo é fonte de engano, não por estas palavras mas sim com um ligeiro desprezo no tom (um desprezo quase inaudível, só possível de nos apercebermos dele em máxima atenção) como se o caminho alquímico fosse o mais seguro (o que não é verdade porque nesse caminho o perigo aumenta exponencialmente). Ora convém lembrar os três caminhos apontados pela lucidez de Fernando Pessoa: o caminho poético, místico e alquímico. Cada um deles se dirige ao mesmo (no caso da alquimia não podemos ser suficientemente ingénuos e pensar que os alquimistas apenas procuram o elixir da longa vida de maneira a arrastarem a sua existência por este planeta por mais anos, o que procuram é o corpo de glória, um corpo transcendente, tal qual o corpo de Cristo após a transfiguração e isto implica, naturalmente, transcendência). Procuram os três caminhos, portanto, a transcendência e, cada um deles, sem excepções, possui os seus perigos. Cada um deles, acrescentaria, nas suas voltas e reviravoltas toca os outros, exactamente como aquilo que se passa com a arte. A pintura está carregada de musicalidade e de palavras, a literatura carregada de imagens e de musicalidade e a música carregada está de palavras e imagens. As artes contém-se umas às outras assim como os caminhos não são exclusivos mas sim inclusivos. O problema é a grande tentação de esquematizar as coisas pelo contágio, é certo, de uma mentalidade simplória cientifica no sentido actual do termo, disfarçada de um pragmatismo teórico. Duvidemos sempre dos “esquemas”, duvidemos sempre de uma literatura esotérica que se apresenta acompanhada com um desenho esquemático, organizado, geométrico, aprisionando na forma a substancia. A geometria, na sua essência, não aprisiona a substancia, nasce da substancia, o que é diferente. É apenas uma parte de um todo, não é o todo. Existe sempre a tentação de a ver como síntese, esquecendo que o mundo das formas de Platão não era apenas geométrico. A luz não é geométrica e, porém ilumina tudo, assim como o rio bravo não deixa de correr. As formas sucederem-se, a substância vai sendo. Daí a tradução errada da bíblia que diz, nas palavras de Deus: “Eu sou o que Sou”, quando a a verdadeira tradução é: “Eu serei o que Serei”. Do presente para o futuro vai uma grande distancia tal como do pragmatismo teórico à realidade existe uma diferença qualitativa. Esquecer a poesia, em qualquer caminho, é esquecer essa diferença fundamental.
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011
PALAVRAS SÁBIAS
Senhoras e Senhores, Vinícius de Moraes:
"A maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a dor do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana.
A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo,
o que não dá a quem pede o que ele pode dar de amor, de amizade, de socorro.
O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e ferir-se,
o ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que o reflete. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes de emoção, as que são o patrimônio de todos, e, encerrado em seu duro privilégio, semeia pedras do alto de sua fria e desolada torre."
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
POEMAS DE EDUARDO AROSO
12-12-2011
sexta-feira, 9 de dezembro de 2011
ANTÓNIO TELMO, SEMPRE
As periferias e os centros
Cynthia Guimarães Taveira
Os povos têm alma e, como tal, esta é uma mistura de adjectivos, uns bons, uns maus, uns assim-assim. A Alemanha tem uma alma e nela, por vezes, o maniqueísmo toma proporções gigantescas. Tão gigantescas que podem assumir a forma de um Hölderlin ou de um Goethe. Podem também assumir, por outro lado, a forma de um Kant. A Alemanha vive entre dois pólos: o amor à natureza e o ódio à natureza. A raiz da crise é só esta. Não são os mercados, os euros, as dívidas. A génese está no posicionamento face ao jardim que é o mundo. A Alemanha quando ama a natureza dilui-se na Europa, ninguém dá por ela, faz parte de um todo, acompanha os ritmos sazonais e dança na Primavera em torno do eixo do mundo. Disse, dança na Primavera em torno do eixo do mundo, não disse que é o eixo do mundo. A Alemanha quando odeia a natureza é o eixo do mundo. Portugal quando ama a natureza é o eixo do mundo e nunca, na sua alma, chega a odiar a natureza porque tende mais a ser ela. Apenas se esquece dela, dorme longe dela. Sempre que a Alemanha centra as atenções sobre si própria é porque, nesse momento, está em guerra com a natureza. Por isso faz ondas e agita os restantes países. Agita os homens mais humildes dentro das suas casas mesmo que estes estejam situados numa ilha isolada no centro do Mediterrâneo. O problema da Europa é então, hoje, estranhamente, um problema de amor. Deixo-vos um textinho do Mestre António Telmo situado na História Secreta de Portugal (Ed Veja,1977, pag. 126):
“O desenvolvimento do pensamento alemão oferece, frequentes vezes, o aspecto do ódio à natureza: grandes máquinas mentais, perfuradoras, tractores, guindastes, que parecem insectos ampliados pelo microscópio. Os grandes sistemas de filosofia germânica zumbem com um grande ruído sintático e sinfónico no espaço da mente e abatem-se de súbito sobre a terra, abrindo minas, escavando, rasgando, torturando a carne da natureza.
Tal ódio assume em Kant a forma de repulsa: «Falam-me da beleza de um céu estrelado. Lembra-me um rosto coberto de bexigas». Ouça-se, comparando, o nosso Carlos Queiroz:
Anoitece.
Faz frio pensar na vida.
E a natureza parece
Dizer em voz comovida
Que o homem não a merece.»
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
O CAMINHO DO CAMINHO, 18
Leituras…
Cynthia Guimarães Taveira
Em conversa com o Pedro Martins relativamente ao novo livro dele, “O Segredo de Grão Vasco”, dizia-lhe que tinha gostado muito do livro. Independentemente das teses que nele eram defendidas, aquilo que havia de melhor nessa obra eram as pistas, os indícios que ele havia deixado no rasto da sua análise. Pistas, indícios de quê?
Para dar a resposta a esta pergunta teremos que começar por analisar alguma da literatura que por aí se vai fazendo e falo apenas no caso português.
Não sem entusiasmo há quem se lance na aventura simbólica. Sim, é um momento importante aquele em que se descobre que os edifícios de pedra antigos estavam pejados de símbolos, alguns mesmo de mensagens elaboradas, que alguma pintura também, que certos textos eram afinal cifras, que as religiões têm muitos deuses e são muito antigas. É o chamado momento do mergulho no dicionário dos símbolos no qual se navega pescando alegremente sem se perceber que se está a apanhar apenas um único peixe que contém apenas uma parte de um problema suficientemente grande para uma vida só não o conseguir resolver.
Aparecem textos estranhos, com associações ainda mais estranhas, e perdoem-me falar num nome, mas para que haja a noção da loucura a que se chega será mesmo necessário citar um excerto apanhado na Internet, transcrito entusiasticamente por Vitor Manuel Adrião que
diz, a dada passagem (para a qual é necessária toda a paciência que puderem arranjar):“Sobre o assunto, respigo umas quantas linhas a um texto teúrgico reservado:
«Foi durante a transição da 3.ª para a 4.ª Sub-Raça que veio firmar-se decisivamente em Bhumi (a Terra) a estrutura da GRANDE FRATERNIDADE BRANCA com SANAT KUMARA à testa, faz cerca de 18 milhões e meio de anos, por altura da Grande Iniciação Colectiva do Género Humano conferida pelos SENHORES DE VÉNUS, os PITRIS KUMARAS FLAMEJANTES provenientes de Vénus (ou Shukra), alter-ego da Terra e uma Cadeia adiante desta.
Isso correspondeu à acção empreendida por ARABEL (o 5.º Luzeiro) e sua Corte de MAKARAS e ASSURAS de coadjuvarem A Evolução Humana, pelos motivos kármicos suscitados por LUZBEL (o 3.º Luzeiro) na anterior Cadeia Lunar.
A formação de uma Grande Loja de Deuses humanizados na Terra, os quais vieram a iniciar os humanos mais adiantados da Raça Lemuriana e que adentraram a Raça seguinte, a Atlante, já como Adeptos Perfeitos, viria muito mais tarde, durante a 5.ª Raça Mãe Ariana, essa formação ou estruturação a ser designada pelos Adeptos e Iniciados da Soberana ORDEM DE MARIZ de PRAMANTHA ou CRUZEIRO MÁGICO A LUZIR.
Diz a Tradição das Idades que 888 deuses humanizados advieram sobre a Terra acompanhando o divino SANAT KUMARA, tendo sido então que Ele se entroncou decisivamente aos destinos deste 4.º Globo tornando-se o 4.º REI DO MUNDO, MELKITSEDEK, ROTAN, CHAKRAVARTI ou PLANETÁRIO DA RONDA. Coadjuvaram-no na manifestação avatárica sobre a Terra, ocupando o Animal Esfingético que AKBEL lhe cedeu, os seus 3 Irmãos Kumaras das 3 Rondas anteriores de Bhumi. Sanat Kumara, por seu turno, era na época um Avatara de ARABEL – LUZEIRO DE VÉNUS.
Foi Ele quem deu início à Grande Loja Branca dos Mestres Justos e Perfeitos, essa que na Índia é chamada de SUDHA-DHARMA-MANDALAM, “Excelsa Fraternidade Branca”, no Tibete de Confraria dos BHANTE-JAULS, “Irmãos de Pureza”, distinguidos pelas suas roupagens e faixas amarelas-azuis, e que a Igreja Cristã cognomina poeticamente de COMUNHÃO DOS SANTO e
Isso correspondeu à acção empreendida por ARABEL (o 5.º Luzeiro) e sua Corte de MAKARAS e ASSURAS de coadjuvarem A Evolução Humana, pelos motivos kármicos suscitados por LUZBEL (o 3.º Luzeiro) na anterior Cadeia Lunar.
A formação de uma Grande Loja de Deuses humanizados na Terra, os quais vieram a iniciar os humanos mais adiantados da Raça Lemuriana e que adentraram a Raça seguinte, a Atlante, já como Adeptos Perfeitos, viria muito mais tarde, durante a 5.ª Raça Mãe Ariana, essa formação ou estruturação a ser designada pelos Adeptos e Iniciados da Soberana ORDEM DE MARIZ de PRAMANTHA ou CRUZEIRO MÁGICO A LUZIR.
Diz a Tradição das Idades que 888 deuses humanizados advieram sobre a Terra acompanhando o divino SANAT KUMARA, tendo sido então que Ele se entroncou decisivamente aos destinos deste 4.º Globo tornando-se o 4.º REI DO MUNDO, MELKITSEDEK, ROTAN, CHAKRAVARTI ou PLANETÁRIO DA RONDA. Coadjuvaram-no na manifestação avatárica sobre a Terra, ocupando o Animal Esfingético que AKBEL lhe cedeu, os seus 3 Irmãos Kumaras das 3 Rondas anteriores de Bhumi. Sanat Kumara, por seu turno, era na época um Avatara de ARABEL – LUZEIRO DE VÉNUS.
Foi Ele quem deu início à Grande Loja Branca dos Mestres Justos e Perfeitos, essa que na Índia é chamada de SUDHA-DHARMA-MANDALAM, “Excelsa Fraternidade Branca”, no Tibete de Confraria dos BHANTE-JAULS, “Irmãos de Pureza”, distinguidos pelas suas roupagens e faixas amarelas-azuis, e que a Igreja Cristã cognomina poeticamente de COMUNHÃO DOS SANTO e
SÁBIOS.”»
A pergunta que faço é: Mas o que é isto? Que confusão é esta? Esta gente julga que não é humana? Não vão ao supermercado dia sim, dia não? Não têm frio no Inverno? Não fazem uma simples digestão, quer em termos literais quer em termos simbólicos? O que pensarão os seus animais de estimação desta verborreia? Parece que o caminho da poesia é muito mais seguro.
Isto mostra como o mundo do simbólico pode ser um caldeirão para o qual se atiram símbolos de qualquer maneira, procurando apenas uma compensação em forma de grandeza para a pequenez que efectivamente somos.
Isto mostra como o mundo do simbólico pode ser um caldeirão para o qual se atiram símbolos de qualquer maneira, procurando apenas uma compensação em forma de grandeza para a pequenez que efectivamente somos.
Mas há outro modo de encarar a questão e passa por um dia lançarmos, do alto de uma ponte, o dicionário de Símbolos ao rio, e vê-lo cair devagar, e vê-lo mergulhar, quase em câmara lenta, nas águas que passam. Nesse momento, o nosso olhar está efectivamente nas águas que passam. E essas águas que passam são, de facto, o verdadeiro símbolo.
É frequente ouvir que teremos que distinguir o “fantástico” da “imaginação”, esta última como produto do mundo imaginal, no entanto, no campo da literatura e das artes, o fantástico, como construção fantasiosa obedecendo a um discurso vindo directamente de um quase-inconsciente (digo-o desta forma porque me parece mais correcta a definição de René Guénon quando afirma não existir inconsciente, mas sim, vários níveis de consciência), toca, por vezes, esse mundo imaginal uma vez que este é um mundo arquetipal. Dou o exemplo de “O Senhor dos Anéis”, na ficção cientifica da “Guerra das Estrelas”, e mais recentemente do excelente filme “Avatar”. O problema é que para se reconhecer a verdade de alguma fantasia tem de se conhecer antes alguma parte desse mundo imaginal, pois é dele que tudo parte.
Só em sonhos consegui entender as “Mansões Filosofais” de Fulcanelli. Lembro-me de, durante algumas tardes e noites, adormecer depois de lidas algumas passagens e, por uma estranha forma e fórmula que ainda hoje não entendo, sempre que adormecia sonhava com as passagens que havia lido e, em sonhos, tudo fazia sentido. Acordava com a noção de um sentimento de “completo”, sendo esta a palavra que mais se aproxima dessas experiências.
Não entendendo nada de química, aquele modo de escrever chamava-me para aquilo que hoje compreendo serem universos sobrepostos, uma espécie de astros que se alinham, se conjugam e que vão do mais alto ao mais baixo. E o que fazia sentido em termos simbólicos teria de fazer sentido também num plano material. Exactamente o mesmo sentido. A alegoria alquímica não era alegoria alguma, era somente alegoria dela própria. A procura do ouro era algo tão palpável e simultâneo como a procura da santidade. E para que tal acontecesse os astros tinham se estar alinhados e os deuses estarem de acordo com o alquimista e com os seus passos escondidos no jardim (para citar a ideia de Rémi Boyer quando fala do alquimista como um jardineiro que se esconde).
Daqui que se possa concluir que quem mergulha no mundo como símbolo mergulhe na própria vida, tal qual ela é, com todos os seus planos sobrepostos, numa tentativa de “alinhamento”, de harmonia, em busca do centro. Não é em vão que o símbolo do ouro seja uma circunferência com um centro ao meio.
Para quem tem dúvidas do que afirmo comece por ler este excerto das «Mansões Filosofais», e, a partir dele, inicie um processo de associações, com a sua própria vida, com a vida de outros, com uma obra literária, com a física quântica, com um jogo de crianças, enfim, associe com o que quiser, e verá que dentro desses voos redundantemente voláteis alguma coisa de fixo, de verdadeiro, se encontra. Principiemos:
“Assim se vê como seria vão trabalhar com ouro, porque este nada tem, não pode evidentemente dar coisa nenhuma. É, pois, à pedra bruta e vil que precisamos de nos dirigir, sem repugnância pelo seu miserável aspecto, pelo seu infecto odor, pela sua coloração negra, pelos seus sórdidos andrajos. Pois são precisamente estes caracteres pouco sedutores que permitem reconhecê-la e fazem com que, em todos os tempos, ela seja considerada uma substância primitiva, provinda do Caos original, e que Deus, nas alturas da Criação e da organização do universo, terá reservado para os seus servidores e para os seus eleitos. Tirada do Não-Ser, ela traz a marca dele e dele recebe o nome: Nada. Mas os filósofos descobriram que na sua natureza elementar e desordenada, feita de trevas e de luz, de mau e de bom reunidos na maior confusão, este Nada continha Tudo o que eles podiam desejar." (Ed. 70, 1989, pag. 338)
A diferença entre os dois textos transcritos é simples, o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro e eterno, pois fazia sentido no Antigo Egipto, tal como faz hoje. E mais, o primeiro não conduz a nada, o segundo é um apelo total à operatividade na própria vida, gesto e corpo. O primeiro está cheio de vaidade, o segundo de humildade. O primeiro é uma associação de símbolos desenfreados, o segundo respira poesia e amor pelos factos da vida. O primeiro vive num mundo de fantasia onde todos começam por ser Adeptos Perfeitos, no segundo, pela imaginação, o leitor é erguido num apelo para se transcender, a começar pelo princípio verdadeiro, o facto de ser imperfeito. O primeiro fala de uma Fraternidade Branca, o segundo fala de um miserável aspecto, do seu infecto odor, da sua coloração negra e sórdidos andrajos.
Os vários níveis de leitura são impressionantes e quando essa leitura se torna vida, os vários níveis de vida são ainda mais impressionantes.
Iniciei este texto por causa dos indícios que uma boa obra sempre deixa e não poderei deixar de referir o papel dos “lemas” ou “emblemas” espalhados por aqui e ali nas «Mansões Filosofais». Estando apenas a procurar a fórmula do ouro, tais emblemas não fazem sentido, estando à procura da transcendência, tais emblemas só fazem sentido e são eles a raiz de todo o bem, belo e vero, uma verdadeira bíblia paralela cuja linguagem é a poética. Deixo alguns como exemplo e vou dá-los apenas como palavras sem imagem (com imagem ainda se tornam mais ricos, complexos e susceptíveis de associações):
Para quem tem dúvidas do que afirmo comece por ler este excerto das «Mansões Filosofais», e, a partir dele, inicie um processo de associações, com a sua própria vida, com a vida de outros, com uma obra literária, com a física quântica, com um jogo de crianças, enfim, associe com o que quiser, e verá que dentro desses voos redundantemente voláteis alguma coisa de fixo, de verdadeiro, se encontra. Principiemos:
“Assim se vê como seria vão trabalhar com ouro, porque este nada tem, não pode evidentemente dar coisa nenhuma. É, pois, à pedra bruta e vil que precisamos de nos dirigir, sem repugnância pelo seu miserável aspecto, pelo seu infecto odor, pela sua coloração negra, pelos seus sórdidos andrajos. Pois são precisamente estes caracteres pouco sedutores que permitem reconhecê-la e fazem com que, em todos os tempos, ela seja considerada uma substância primitiva, provinda do Caos original, e que Deus, nas alturas da Criação e da organização do universo, terá reservado para os seus servidores e para os seus eleitos. Tirada do Não-Ser, ela traz a marca dele e dele recebe o nome: Nada. Mas os filósofos descobriram que na sua natureza elementar e desordenada, feita de trevas e de luz, de mau e de bom reunidos na maior confusão, este Nada continha Tudo o que eles podiam desejar." (Ed. 70, 1989, pag. 338)
A diferença entre os dois textos transcritos é simples, o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro e eterno, pois fazia sentido no Antigo Egipto, tal como faz hoje. E mais, o primeiro não conduz a nada, o segundo é um apelo total à operatividade na própria vida, gesto e corpo. O primeiro está cheio de vaidade, o segundo de humildade. O primeiro é uma associação de símbolos desenfreados, o segundo respira poesia e amor pelos factos da vida. O primeiro vive num mundo de fantasia onde todos começam por ser Adeptos Perfeitos, no segundo, pela imaginação, o leitor é erguido num apelo para se transcender, a começar pelo princípio verdadeiro, o facto de ser imperfeito. O primeiro fala de uma Fraternidade Branca, o segundo fala de um miserável aspecto, do seu infecto odor, da sua coloração negra e sórdidos andrajos.
Os vários níveis de leitura são impressionantes e quando essa leitura se torna vida, os vários níveis de vida são ainda mais impressionantes.
Iniciei este texto por causa dos indícios que uma boa obra sempre deixa e não poderei deixar de referir o papel dos “lemas” ou “emblemas” espalhados por aqui e ali nas «Mansões Filosofais». Estando apenas a procurar a fórmula do ouro, tais emblemas não fazem sentido, estando à procura da transcendência, tais emblemas só fazem sentido e são eles a raiz de todo o bem, belo e vero, uma verdadeira bíblia paralela cuja linguagem é a poética. Deixo alguns como exemplo e vou dá-los apenas como palavras sem imagem (com imagem ainda se tornam mais ricos, complexos e susceptíveis de associações):
“ A prudência é a guardiã das coisas”
“Não tu, mas nada sem ti"
“Agora, em verdade sei”
“Não tu, mas nada sem ti"
“Agora, em verdade sei”
“A verdade vitoriosa”
“Enquanto o fogo durar”
“Antes a morte do que a mancha”
“Se os destinos aí te chamam"
“Morro pelas minhas próprias penas"
Recentemente estive no Colóquio Internacional Carvalho Monteiro, Vida, Imaginário e Legado, brilhantemente conduzido por João Cruz Alves e Manuel J. Gandra. Digo que foi brilhantemente conduzido (houve de facto uma condução até um determinado ponto) porque no final de tudo, após dias a revirar a vida do senhor, a analisar os seus passos, a sua biblioteca, os seus interesses, surpreendentemente, como que a brilhar na noite, foram revelados os lemas que este usava ao peito, mesmo junto ao coração, pendurados num fio. Deixo-os, também sem imagem mas são suficientes:
Relativamente ao Fogo: “Não desço nunca”
“Que tudo me consuma contando que agrade”
“Dá o teu fruto sem o prometer”
“Serpenteio mas não me desvio"
Relativamente ao Leão: “Quem ousará atacá-lo?”
“Serpenteio mas não me desvio"
Relativamente ao Leão: “Quem ousará atacá-lo?”
“Nada espero senão de mim mesmo"
Relativamente ao Sol: “Privado de ti, eu morro”Boas leituras!
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
SABEDORIA ANTIGA, 24
Na imagem, Auto-retrato de Almada Negreiros
Alexandra Pinto Rebelo
Muitas páginas têm sido escritas tentando justificar a arte contemporânea. O engraçado destes discursos é que não argumentam a favor deste ou daquele tema, deste ou daquele material. Sabem que calcanhar têm de proteger, indo logo directos ao assunto. Afinal o que esses textos pretendem é provar-nos que aqueles objectos são mesmo arte e não uma outra coisa qualquer. Nós é que não o conseguimos compreender.
Um dos argumentos mais utilizados é, absolutamente, delicioso. E resume-se no seguinte: o mercado dos coleccionadores de arte está mais ávido do que nunca de produtos culturais cada vez mais complexos. Daí estes produtos, os objectos de arte, terem tendência a tornar-se mais herméticos para o público comum. Aquilo que, no fundo, nos estão a dizer é que as obras de arte contemporâneas exigem tanto do observador em termos cognitivos que são raros os possuídores de tais capacidades, imprescindíveis, para os avaliar. Simplificando ainda mais, aquilo que nos juram é uma coisa absolutamente simples: só os ignorantes não vêem que aquilo é, obviamente, arte.
Este argumento lembra fortemente aquele utilizado por Hans Christian Andersen no seu conto As Roupas Novas do Imperador. Os “grandes tecelões” recém chegados à cidade, conseguiam fazer um tecido mágico só visível para aqueles com uma super capacidade cognitiva, semelhante em tudo à requerida aos bons observadores actuais da arte contemporânea. Já que ninguém quer dar parte fraca, todos garantem ver o tecido. Por esta analogia de processos, teria neste momento de ir buscar o testemunho de uma criança que, perante um objecto de arte contemporânea, tivesse dito: “isto não é arte”. Não há crianças assim e, a haver, meteriam um certo medo. Nem tão pouco a sua afirmação teria algum peso neste campo da Teoria da Arte.
O que eu proponho é seguirmos um caminho mais simples, confrontando um objecto específico com a sua suposta complexidade. Peguemos no sapato de Joana de Vasconcelos, construído com tachos e tampas dos mesmos. Através da sua observação, guardamos três pontos fundamentais na sua mensagem- mulheres, cozinha e glamour. Agora, basta-nos formar sentidos lógicos com estes pontos. “As mulheres estão sempre divididas entre a cozinha e o glamour”; “As mulheres deixaram a cozinha e transformaram-se em glamour”; “Por muito que as mulheres tentem ser só glamour, têm sempre implícita a sua função ancestral na cozinha”. Qualquer destes argumentos de interpretação é válido.
Isto é complexo? Não me parece. Poder-se-á, no máximo, escrever um livro pequenino à volta do assunto, esgotando-o no final das primeiras páginas. A obra Las Meninas, de Velázquez, não foi feita para ser um objecto de arte complexo e, no entanto, já levou a que, sobre si, se escrevessem bibliotecas inteiras. O mesmo se poderá dizer, reduzindo o número de textos escritos, dos nossos Painéis de São Vicente.
Almada Negreiros escreveu uma frase que aqui faz todo o sentido: “As pessoas que eu mais admiro são aquelas que nunca se acabam.” De alguma forma, a complexidade das obras de arte faz lembrar esta afirmação. As mais admiráveis são aquelas que nunca se acabam. São aquelas que permitem sempre leituras inovadoras, sabendo manter-se como um conjunto aberto de interpretações. Como fazer isso é um dos mistérios da arte, da verdadeira.
POEMA INEXPLICÁVEL
O breve início / O longo indício
Cynthia Guimarães Taveira
Disseste:
- A vida passa como um espelho
espelhando apenas um lado
Os dedos tocam o fruto
e, do outro lado do espelho
tocam o sol.
Digo-te em segredo, agora:
Os olhares cruzam-se indiferentes
Na noite em que tudo se passa
e, do outro lado, há um mergulho
No espelho das águas das almas
Vi-te chegar numa corrida
Assim de negro, branco e vermelho
Pausa no tempo das cores
Ouço atentamente os seus dons
O olhar pára atento
Pausa no tempo, sem dúvida
Fixos os olhos não param
Voando dentro uns dos outros
Param os momentos em aproximação
Parados por um sorriso que se passa
Tremendo nesse lado do espelho
Cedo, cedo o sorriso te devolve o real
Perguntas se irás para a morte
Sim, irás e depressa
Pausa no tempo em que és alto
Foge depressa para o mar
Perguntas inocente no mar:
Mas o que se passa afinal?
Pausa no tempo da tua voz a fugir
Consolo breve na paisagem
Perguntas se te juntas a todos
Respondes que nada te interessa
Voas abaixo da montanha
Voas guiado afinal
Giras em torno do monte
Em espirais que são só caminhos
Pausa no tempo do centro
Em olhares de gatos que te adivinham
Sobes acima devagar
O outro lado do espelho
É a resposta afinal
Espanto dos espantos depois
De anos e anos em espera
Pausa no tempo dos dias
Em atenção aos movimentos
Teu coração é depois erguido
Em dor, mistério e saudação.
Salvé.
domingo, 4 de dezembro de 2011
FIDELI D'AMORE, AINDA OS HÁ?
“…«Dama» e «Amor» têm um carácter simbólico, ainda mais saliente e manifesto que as várias damas e rainhas dos textos do Graal e da literatura propriamente cavaleiresca, tornando-se o centro de todas as aventuras. Só que neste caso, o simbolismo não exclui também um aspecto concreto, ligado a uma via divergente especial, de realização espiritual, em que os sentimentos, a exaltação e o desejo suscitados por uma mulher real, mas todavia concebida e vivida, através duma espécie de processo evocatório, como a encarnação de uma força vivificante e transfiguradora, transcendendo a sua pessoa, podiam ter o seu papel, como base, ou ponto de partida. (…) Alguns exemplos: a um dado ponto, o amor de Dante revela-se o amor pela «Santa Sabedoria». A sua «dama» Beatriz confere-lhe liberdade iniciática - não só a alma de Dante é, por seu intermédio, «destacada do corpo», como também, no Paraíso, o «sol dela» ofusca o «sol de Cristo»."
Evola, Julius, O Mistério do Graal, Edições Vega, 1993, pág. 201
sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
TEMPOS DE HOJE...
Os “Pontos” e os “is” da Arte
Cynthia Guimarães Taveira
Mais do que aquilo que vestimos ou deixamos de vestir, o espaço que nos rodeia contribui para a formação das nossas cabeças. A roupa é a máscara, a persona, distante do nosso verdadeiro ser. A máscara que nos oferece todas as possibilidades de ser o que somos e não somos, o véu que nos oculta ou desvenda, enfim um produto, sobretudo, do tempo e dos humores. O espaço, por seu lado, é fundamental, diria em tom metafórico, para a formação dos ossos. Pedra e osso andam lado a lado na sua função e, em termos simbólicos, estão ligados à estrutura e, consequentemente, à nossa estrutura. Daí que a Arquitectura seja entendida, em tempos arcaicos, como a mãe de todas as artes, o eixo fundamental sobre o qual todos nós nos vamos desenvolvendo. As implicações da edificação de uma simples casa são tão profundas como os alicerces de problemas antropológicos do género “o valor da palavra” ou, a “casa dos homens”, lugar iniciático de muitas culturas arcaicas.
O osso é o que nos ergue, algo que vai crescendo em nós, o suporte de toda a carne, de toda a nossa aparência, os ossos são as consoantes da língua (tronco e os ramos), a carne , as vogais (as folhas). É o osso que fica depois da nossa morte, é a pedra erguida que se mantém depois da passagem das civilizações. É a paisagem que nos influencia os pensamentos e, muitas vezes, nos dita as acções, os caminhos escolhidos, a sensibilidade perante as coisas. A “contemplação dos ossos”, feita em modalidades do Ioga, é também, a contemplação da nossa paisagem interior, dos resíduos embutidos nos socalcos da memória, é o que resta depois do acrescento da pedra-cálcio, depois do acrescento da nossa vida ao nosso corpo.
Por tudo isto, a Arquitectura tem um papel fundamental na actividade do homem. É ela que nos aproxima ou desvia do real, nos aconchega ou nos expulsa do mundo. A Arquitectura é a construção de edifícios e é também muito mais que isso, por sinal, é a construção de tudo.
Entendida como uma arte sagrada, esteve, nos primórdios, ligada ao primeiro sinal no homem do transcendente: o céu. Mesmo retirando toda a carga religiosa e simbólica que o céu possa conter, a realidade é que um homem, olhando para esse vasto universo de estrelas, esse labirinto sem sentido, nocturno e caótico, sente a tontura de algo que o transcende e aquilo que o transcende tem, de alguma forma, de fazer sentido. A primeira construção do homem é o ordenamento das estrelas, dos astros. É a procura da ordem nesse abismo que se estende para cima. Dar um sentido às estrelas, ordená-las, perceber quando aparecem e quando desaparecem e dar-lhes, enfim, uma história, um enredo que se pareça com a sua vivência corporal e sentida, com seus ciclos, suas noites e dias, a sua marcha, a sua orientação. É quando o universo começa a fazer sentido que a construção deixa de ser apenas um abrigo do frio e do calor para se tornar uma arte. É quando se dá a união entre terra e céu que começa o trabalho da pedra em função dupla de ordenar o território e de o sacralizar face ao céu. Da construção como necessidade passa-se à construção como arte, das necessidades básicas passa-se àquilo que Oscar Wilde disse: ”O supérfluo é absolutamente essencial”, e a arte é, afinal, absolutamente essencial tanto para a manutenção do homem no mundo como para o seu crescimento, alargamento de fronteiras interiores. A arte, por vezes, suprime, no caso da espécie humana, os impulsos mais animalescos, aqueles que se esperam essenciais, pois não é verdade que em Auschwitz se trocavam rações por histórias? A fome do homem, como ser com tendências transcendentes, pode suprimir a fome de pão pela fome, ou sede, de sagrado e é aí que entra a arte e a construção, e o papel do homem no meio deste vasto universo, suplicando ordem e invenção. Se o místico espera, em jeito de oração (sua forma de arte), desapego, renúncia e contemplação que o céu interior, de alguma forma desça até ele, ao homem comum só lhe resta construir, reconstruir, passo a passo, esse céu na terra, na acção, na entrega, no gesto.
É no impulso construtivo que residem as tendências artísticas e deveria ser nas tendências artísticas que deveriam residir as tendências construtivas (o que não é verdade hoje em dia, infelizmente). Mesmo na desconstrução do mundo, tema recorrente na actual arte, o propósito último da obra deveria emergir da sua raiz: a construção de um novo mundo, sagrado, perto da perfeição das rotas das estrelas, perto das histórias ecoadas pelos astros, perto da música das esferas. Daí que Lima de Freitas tenha dito a frase radical: “A arte ou é sagrada ou não é arte”.
Infelizmente a desconstrução actual parece não ter como propósito último esta sacralidade, mas sim o alongar do súplicio de uma civilização em agonia, uma tradução ipsis verbis da fealdade, da ignorância e da falta de graça do mundo contemporâneo. E uma tradução não é uma criação ou, quanto muito, a ideia não se deve ao seu tradutor.
Viaja-se para se conhecer novos povos, novas paisagens, novas línguas, mas também novas construções. Os monumentos têm à sua roda toda a espécie de turistas, de óculos, binóculos, câmaras manuais, digitais, de fotografia, de vídeo. Ver, a obsessão de ver para crer, para acreditar, para sentir, enfim para viver, dizer que se viveu, lembrar que se viveu. Este acto impulsivo e compulsivo do turista reside na intuição profunda de que a construção está intimamente ligada à nossa vida, e mais do que isso, nos influencia profundamente. A paisagem, o clima, moldam os povos, a arquitectura feita pelas mãos do homem molda-nos face à atitude que temos para com o sagrado. Porque é essa a sua origem. O impulso mórbido pela desconstrução e desfragmentação contemporâneas tem o seu desejo último na destruição completa, como a palavra final de um processo incessante e está traduzido nos filmes-catástrofe, em que os edifícios nos aparecem violentados, os canos, como entranhas, partidos, gotejando, os fumos de uma purificação pelo fogo atravessando as ruas, a noite cinzenta como a cor principal, o cheiro triste, quase sentido vindo do ecrã. Este tipo de visões apocalípticas é a de um futuro-mais-que-ruinoso (as ruínas têm alguma dignidade), porque a acção da destruição não se deu num tempo lento, mas sim num tempo súbito, inesperado, violento e sem piedade e demonstra a má relação que o homem tem com a sua Arquitectura. Há um desejo obscuro de tudo destruir porque, no fundo, não se ama nem respeita esta Arquitectura nascida na época pós-guerra do Bauhaus, nascida das necessidades de um mundo ainda acocorado pelo medo da morte. A nova Arquitectura e, por inerência, a nova arte, “pós-pós-tudo”, traz em si o germe da desordem da própria guerra e a sua projecção no futuro só pode ser a sua própria destruição. Hoje há uma má relação do homem com a Arquitectura que o rodeia e, consequentemente, há uma má relação com o sagrado ou vice-versa.
A natureza é fértil em modelos ordenados. A geometria está presente num grão de areia ou numa gota de chuva. E, segundo a teoria do caos, mesmo em dinâmicas aleatórias há padrões que se vão estabelecendo e desenvolvendo. Há alguns anos fez-se a seguinte experiência com bebés em idade de gatinhar: desenhou-se no chão dois tipos de desenho - num o desenho era confuso, caótico, noutro o desenho era geométrico, harmonioso. Todos os bebés escolheram dirigir-se para a ordem. Preferiam um ambiente mais “estável”, apesar de tudo.
Lévi-Strauss desenvolveu o conceito de sociedades quentes e frias, sendo as frias as mais apegadas às suas tradições, e as quentes mais instáveis e abertas às mudanças. Ao lermos René Guénon ficamos com a sensação de que este nos vai descrevendo (mesmo pela negação das sociedades actuais) uma Idade de Ouro perfeitamente tradicional. Esta Idade de Ouro, assim vista pelo olhar binário e estruturalista Lévi-Strauss, seria uma sociedade congelada, encerrada na sua perfeição. Uma sociedade perfeitamente apolínea e nada dionisíaca, segundo outra interpretação, de Ruth Benedict. Onde está a abertura necessária para o engenho e a arte na Idade de Ouro? Será que o papel da arte não é também ele o da desconstrução para a construção de outro mundo? Como não cair num fundamentalismo teórico ainda que com raízes na Tradição? E como não cair na total irresponsabilidade face ao vamos construindo? E porque chamavam os gregos à arte “imitação”? À pergunta “quais os limites da arte?” vem agarrada uma outra, tão importante e fundamental: “quais os limites do homem?”. Tão confusos estamos devido à nossa sociedade escaldante que já nem sabemos a resposta. Se se é tradicionalista, é-se reaccionário e o perigo é o do fanatismo (porta fechada por dentro), se se é liberal, já não se reage a nada e as portas acabam todas fechadas por fora sem que possamos sair para lado nenhum. É o que se passa hoje com a Arquitectura e com a arte em geral. Na Arquitectura isso tende a deixar de ser apenas simbólico com a construção de condomínios fechados, dos quais não se deve sair.
Os edifícios babilónicos tendem naturalmente para o abismo, e aqueles que nada têm a ver com orientações sagradas, tradicionais ou, simplesmente, respeitadoras da natureza envolvente, tendem a cercar o homem em prisões que nada têm de virtuais. E o homem é o espelho do que constrói. A imagem que imagina é a imagem que projecta, a imagem projectada é a base, a fonte da imagem seguinte a ser imaginada, e assim por diante. A palavra que se escreve é a chave da próxima, isto numa ordem simples, isto até dentro da desordem e do surrealismo. Daí que a Arte mais elevada, a Arquitectura, tenha uma profunda influência no pensamento.
A facilidade com que se aprende a trabalhar com um computador tem como causa o facto de este ter sido possível a partir de uma estrutura muito simples, o “zero” e o “um”, e ninguém, pelo menos por enquanto, chama “inteligente” a um computador. As escalas musicais, a paleta das cores, as formas geométricas, em suma, tudo aquilo que não é criação do homem, parece ter como base estruturas formadas a partir da variedade e da complexidade dos elementos estruturantes, não binários. A “imitação” no sentido grego parece ser trabalho para uma vida. A desfragmentação e consequente desumanização da arte é, no fundo, a incapacidade crescente para imitar. É mais fácil destruir o que está criado (neste caso, os modelos naturais), do que ser demiurgo no sentido em que se ama e se descobre o que se vai criando ou imitando. E não se trata de ser o macaco de Deus, a imitação é a da sua criação, não do Deus em si, porque a Ele ninguém O conhece e, por isso, ninguém O pode imitar, muito menos um macaco…A arte contemporânea toma a destruição nas mãos como se se tratasse de criação, o que é um verdadeiro paradoxo. E isso é tão grave como uma fábrica que produza sistematicamente a morte. Acabo de ler a notícia de um alemão, Gregor Schneider (que se distinguiu por ter colocado um bigode a Mona Lisa, um destruidor, portanto, e não um criador) que quer transformar a morte numa performance convidando moribundos a morrer perante um “público”. Este auto denominado artista deve lamentar imenso não terem existido câmaras nos campos de extermínio com transmissões em directo que mostrassem ao mundo a “beleza” da morte. Os artistas contemporâneos que fazem “instalações”, borrões em cinco minutos ou edifícios frios, erectos e distantes estão a matar o mundo e são tão eficazes nisso como o capitalismo exacerbado que os mantém. Peço desculpa mas não há teoria da arte que justifique a barbárie.
Hieronymos Bosch, no Jardim das Delícias, oferece-nos, no painel esquerdo, um paraíso, onde na aparência está tudo bem. Mas, olhando em pormenor, os animais, nesse painel, caçam-se e devoram-se uns aos outros. É um paraíso terrestre, demasiado terrestre e por isso com o sabor a desmembramento, a morte, a desconstrução. Na ordem aparente da natureza existe o movimento contrário, pendular, Kali destruidora, compensadora e fonte deste equilíbrio frágil universal. Se a arte é imitação, e se os modelos são as criações ou a criação já existente, também há espaço para a descontrução, aliás como para a crítica social, para um olhar mais caótico que o próprio caos que nos rodeia, para os fantasmas e as sombras da condição humana. Claro que sim. Aquele olhar realista que nos aponta o defeito para nos lembrar a virtude, a noite para nos lembrar o dia. O problema é que, hoje, a linguagem metafórica dominou as artes plásticas. Todo este lixo contemporâneo é sempre apresentado como uma metáfora de qualquer coisa (nem na Bíblia encontramos tanta obsessão pela metáfora) e as metáforas sobrepostas, aleatórias e mal feitas acabam por desembocar numa linguagem tão esotérica que apenas o próprio artista a compreende, ou, como está na moda dizer, meia dúzia de iniciados na arte contemporânea que praticam uma espécie de esperanto artístico, sem princípio, sem origens, sem raízes, sem pai nem mãe, ou seja, uma linguagem orfã de significante e significado naquilo que uma língua pode ter de mais íntimo e sagrado. Por outro lado, é necessário saber fazer metáforas: quando não são bem feitas e não usam códigos comuns ao observador a história metafórica acaba por ser o único real. Daí que a empregada de limpeza da Tate Gallery tenha deitado fora uma peça que lhe pareceu lixo…
A metáfora abate-se sobre si própria e fica apenas o lado de fora dela, e os lírios do campo já nada têm a ver connosco, são apenas lírios no campo, não chegando esses lírios sequer ao despojamento anunciado por Alberto Caeiro, mas sim a um outro despojamento, o despojamento do olhar que nada mais vê senão uma forma no campo sem nome e sem sentido, (uma miopia semântica) ou seja, destituído de palavra, destituído de Verbo e, por consequência, de Luz. Fica-se só com a parte e deixa-se de fora o Todo. Fica-se apenas com o tempo da moda e seus humores e põe-se definitivamente de lado a eternidade. E os artistas são os bonecos de ventríloquos mudos por falta de ideias, de amor, de admiração pelo que os rodeia.
A primeira vítima desta estranha forma de criar é o próprio arquitecto ou artista. Porque está e permanece só. Só e com a sua assinatura, a sua única razão para continuar a existir. E a arte, no seu princípio, não é um acto solitário. É um diálogo permanente com Deus ou com esse outro, interior, perto da nossa alma.
Esta solidão do artista chegou a tal ponto que já foi inventado um robot pintor. É o robot que pinta, não o artista, este passou definitivamente para o lado do observador e já não tem mais função no mundo. Assim como a arquitectura, hoje impossível sem o auxílio da máquina. A mão que agarra o lápis e desenha a cúpula imita-a muito mais na perfeição, pois no mundo não há esferas perfeitas, só um computador é capaz de tal coisa. O computador imita mal a natureza, é um péssimo artista e talvez o seja por ter nascido do zero e do um e não da diversidade maravilhosa dos elementos. Quando o artista se ausenta do mundo regressamos à animalidade, e Arquitectura deixa, de novo, de existir, para nos limitarmos a ter abrigos, como as bolsas dos cangurus, sem sequer conseguirmos ver que até os pássaros possuem o impulso genético de construir um ninho, pauzinho a pauzinho. Assim nunca sairemos da proximidade do ventre…
Gilbert Durand chama-nos a atenção para a noção de “bacia semântica” e dá um exemplo para explicar esta noção: a bacia é talhada pelas ondas da maré e, por sua vez, é o relevo da bacia que vai influenciar as ondas, na sua, forma, força e frequência, e talhando estas, de novo, a bacia. Bacia e maré criam-se e recriam-se ao longo do tempo e cada uma é consequência da outra. Esta metáfora é uma metáfora arquitectónica. Ter jardins, casas cuidadas, formas que de alguma forma sejam um prolongamento da natureza tocando os céus, é termos esses jardins dentro de nós, essas casas cuidadas e essa formas no templo interior que tocam outros céus. Chegam lá por sintonia, por serem da mesma origem. O problema da criação há-de ser sempre um problema face ao sagrado. Ou se está dentro dele ou fora dele, ou se cria ou se destrói. E quando se tem dúvidas sobre de que lado se está já se é mistíco, de alguma forma…
Ou se é mais e se consegue “contemplar o céu do fundo da sarjeta”, como tão bem disse Óscar Wilde, ou se é menos e se vive nela, num submundo demasiado perto dos infernos. E aí já não há ossos nem ruínas para contemplar, apenas cinzas, esse pó que fica depois das estrelas.
Francisco de Holanda, um artista muito antigo, oferece três lições fundamentais sobre a arte e que resumem as possibilidades de se (re)criar a partir do que nos foi dado (ninguém se torna artista, nasce-se artista, daí a maldição da imposição, semelhante àquela dos reis que não escolhem ser reis).
A primeira activa a imaginação: ao criar, conhecendo o mundo, saindo de si, participando na criação pela imitação, o homem volta a si com mais conhecimento de si próprio.
A segunda activa a humildade: os dons são dádivas vindos de fontes longínquas e desconhecidas e a forma de agradecer é aperfeiçoar este mundo.
A terceira activa a curiosidade: o artista deve ser pluridisciplinar e interessar-se por muitas matérias, porque tudo neste mundo está ligado.
Se olharmos para estes princípios apontados por este homem muito antigo, vemos subitamente inscritas numa coluna de mármore as três perguntas fundamentais: Quem sou? Donde vim? Para onde vou? E não será essa a coluna vertebral de qualquer artista? A arte sem Verbo não é arte.
Lisboa, Outubro 2008
Lisboa, Outubro 2008
Subscrever:
Mensagens (Atom)