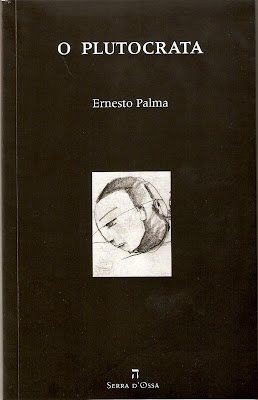Interior (Costureiras trabalhando), de Marques de Oliveira
Interior (Costureiras trabalhando), de Marques de OliveiraAs citações nunca estão sós
Cynthia Guimarães Taveira
Frase de Oscar Wilde, que não me canso de repetir: “O supérfluo é absolutamente essencial”. E outras citações, desta vez de um romance em jeito de autobiografia, ou vice-versa, que gostei de ler, nem sempre as obras-primas são necessárias aos pensamentos. Assim, nas “Casas Contadas” de Leonor Xavier, pequenos esboços da vida doméstica, deliciosos: “As cozinheiras como ela era sabiam de tudo, pensava eu, enquanto assistia aos seus preparos. Ela arrepiava um pescada com sal, pendurava-a pelo rabo por um cordel, preso na torneira sobre um alguidar, ou escamava uns salmonetes para o almoço. Temperava o cabrito para ir ao forno, ajeitava uma galinha em arroz para corar, embebedava o peru com um funil se estivesse em preparativos de Natal. Depenava um pato ou um frango. Cortava feijão verde ou arranjava nabiças para uma sopa. Sabia que o espinafre não leva água para cozer, e que o polvo é traiçoeiro na panela. Batia claras de ovos em castelo para os bolos, não se enganava no ponto do açúcar, ponto de pérola ou de espadana, a escorrer da colher de pau. E fazia doces de frutos em tachos de cobre, sempre a mexê-los, encarrapitada no fogão.” Mais à frente, tendo ainda a referência das criadas: “…continuava pelo trabalho de lavar, escamar, descascar, cortar, moer, picar os peixes e as carnes, as hortaliças, os acompanhamentos, cozinhando-os para o momento exacto das refeições, lavando à mão e arrumando a loiça com a ajuda da criada de fora. Eram horas de trabalho sem fim, para tratar de esfregar a roupa de corpo no tanque e pendurá-la na corda de arame, roupa que a criada de fora de lá tirava depois de seca, para borrifá-la e dobrá-la a preceito, arrumada num cesto de verga, para da parte da tarde, entre a hora do lanche e do jantar, passá-la a ferro.” E ainda: “Duas vezes por semana, vinha a lavadeira, com o seu rol de roupa confirmado peça por peça, os lençóis e as fronhas, as almofadas e os travesseiros, as toalhas de mesa e de banho, os guardanapos e os panos da loiça, de estopa ou linho ou algodão conforme se destinassem a tachos, copos, pratos ou talheres.”. Finalizando, desta vez referindo-se à costureira: “Nas suas mãos, um vestido passava a ser blusa, uma blusa era uma saia, um folho transformava-se em prega ou bolso”. Há que dizê-lo, Leonor Xavier descreve aqui um intenso registo de manutenção. A manutenção de uma casa, a manutenção da própria vida, trabalho que, dizia um professor de Antropologia de Económico, não era remunerado, mas que, sem o qual, a sociedade ruiria. Hoje, só as realezas empresariais e as poucas verdadeiras que sobram na Europa possuem este tipo de criadagem, e mesmo assim, o trabalho não é o mesmo, menos manual (Agostinho da Silva diria mesmo menos escravizante). Mas se olharmos com atenção para esta descrição veremos que a fronteira entre a manutenção e a arte é difusa. Facilmente o essencial passa a supérfluo. O cabrito requer arte não a requerendo de todo, assim como os doces uma mão, uma alma que se põe na confecção, doces que essencialmente têm apenas de ser doces mas que acabam sendo mais: “o doce estava divinal”, pode dizer-se, alcançou o divino pela elaborada manutenção da vida, e o vestuário, apenas protecção, em princípio, passa a arte sem preço. Uma pequena anedota ilustra esta passagem: uma senhora num salão de chapéus parisiense prova, insatisfeita, todos os modelos disponíveis; por fim, chama o chapeleiro e diz-se desiludida por nada lhe ficar bem. O chapeleiro pega então num pedaço de tecido que sabiamente vai enrolando à volta da cabeça da senhora. Por fim, estende o espelho e a senhora diz, quase num grito: -- Perfeito, está perfeito. Quanto lhe devo?, pergunta. O chapeleiro pede-lhe um preço exorbitante, ao que a senhora, chocada, contrapõe: -- Mas isto é apenas um pedaço de tecido. Com um sorriso, o chapeleiro, responde: “-- Mas, minha senhora, o tecido é de graça”. O chapéu serve apenas para cobrir a cabeça, mas há sempre um “a mais” que se coloca, o pequeno “a mais” que torna os pequenos gestos em pequenas perfeições, próximas do divino.
O Jardim de Adão e Eva era para ser guardado, mantido por eles, mas um jardim é já a criação conduzida a uma outra criação. Não há jardins espontâneos, têm a marca da tesoura de podar, da orientação no espaço, do cuidado visual e, naturalmente, do canto elogioso dos pássaros. Têm um toque a mais do que a natureza selvagem. Cuidar é assim também criar.
Confesso que fico estupefacta com os sacrifícios humanos que ainda hoje se fazem em religiões monoteístas. Para além do acto tresloucado de fazer explodir bombas no seu próprio corpo em nome de um Deus e com o propósito de um paraíso machista de virgens submissas, há os outros, feitos na Páscoa, no qual cristãos se deixam espetar por pregos numa tentativa vã de serem símbolos vivos (mais parecendo mortos, mas enfim) e, ainda, outros que se arrastam de joelhos até que o sangue por eles escorra ou as bolhas nos pés cheirem mais a exigência do que propriamente a pedidos de socorro. Parece-me tão estranho isso como os jogadores irem pedir golos à Virgem como se esta fosse a décima segunda jogadora, marcando o golo da vitória. No fundo, são negócios, apenas negócios… mas negócios que implicam o corpo, ou seja, o jardim que nos está mais próximo, o mais íntimo, a manifestação que temos mais por perto. Esta destruição contraria a guarda do jardim e, em última análise, a própria criatividade. Com a destruição já não há manutenção, e sem esta deixa de haver a possibilidade artística que há no homem, tanto fora de si como dentro de si. Hoje assiste-se à destruição, não menos perigosa, da psique humana.
Tive acesso a um texto pouco propagandeado, talvez por poder ser pouco entendido, de Denis La Borré, mas que está em harmonia com a chamada Tradição Universal, no qual se pode ler a reformulação da frase “Deus criou o homem à sua imagem e semelhança” para “E todos os homens são à imagem de Deus, mas, eventualmente, também à sua semelhança”, ou seja, temos a imagem mas ainda não revelamos a semelhança; somos, segundo este autor, seres cujo Arquétipo divino está dentro do homem, entranhado mesmo, uma vez que esta é a sua realidade mais profunda não se encontrando nas particularidades naturais ou físicas (materialistas), na alma, na personalidade. A realidade mais profunda encontra-se “na imagem de Deus no homem”, “Antes da queda, o homem envergava uma vestimenta tecida por Deus. (…) Esta vestimenta psicossomática era tecida de luz, e da glória de Deus. (…) Essas túnicas de pele não são o invólucro dentro do qual a alma terá estado aprisionada, como se aprisiona um ser humano dentro de uma camisa de forças ou de um escafandro. Essas túnicas de pele não são uma imagem de um “corpo físico” dentro do qual a alma estaria encerrada e donde ela se libertaria à hora da morte. É necessário, antes de mais, concebê-las como um ser (compreendido como corpo e alma) de luz densificada, congelada, endurecida. Aquilo que constitui o homem “à imagem” é o corpo com a alma; não a alma sem o corpo e, ainda menos, o corpo sem a alma, mas o composto, sem separação de uma alma e de um corpo. O “à imagem” entende-se como a totalidade psicossomática do ser humano. As túnicas de pele exprimem a mortalidade com a qual o homem se revestiu depois da queda, como uma segunda natureza, a situação nova na qual ele se encontra, quer dizer, uma vida dentro da morte. Esta mortalidade abrange todo o organismo psicossomático do homem e não se limita ao corpo. Isto deve-se ao facto de as funções psíquicas serem, também, “tornadas” corporais, formando com o corpo, o ‘véu do coração’. (..) Essas túnicas de pele, oferecem-lhe a possibilidade de sobreviver, por algum tempo, no seio da própria morte, até recuperar, e mesmo ultrapassar essas vestimenta inicial.»
Este é, claro, o tema da deificação do homem, cujas raízes são tão antigas como o próprio homem (bem mais velho do que o homem-macaco de Darwin). Não vale a pena esquecer isto porque mais tarde ou mais cedo lembramo-nos. É um assunto ao qual se volta sempre porque está dentro de nós, mesmo que não saibamos o “como” dessa deificação, e na verdade, poucos sabem, e muitos se deixam abater no deserto procurando nele a totalidade. A deificação do homem é a arte final. O último toque da criação (conhecida, claro está, outras provavelmente haverá, desconhecidas), a mais difícil. Mas tudo começa, na arte, pela manutenção, pela sábia manutenção que vai ascendendo a esferas superiores. Se, para a Tradição a verdade se situa para além do Bem e do Mal, a esfera artística situa-se para além da criação e da destruição. Verdade e Perfeição carecem de opostos na sua busca mas transcendem-nos no final.
As citações nunca estão sós, porque alguém as cita. Verdade de La Palice. E os homens podem estar sós? Devem estar sós? Consegui-lo-ão? Mesmo em processos e caminhos angelicais, o corpo sendo um aglomerado de corpo e alma, indissociáveis, está condenado a estar em relação com os outros corpos. Mesmo não sendo seres humanos há sempre a companhia dos animas (insectos mesmo minúsculos, bactérias e ácaros), das rochas, das plantas: é inevitável, é o cenário que nos calhou em sorte. Ninguém marca uma reunião a sós com Deus, porque somos sempre nós e a nossa circunstância, para citar Ortega y Gasset.
Num tempo de excessos como este, é fácil pensar no silêncio auditivo, no silêncio visual, no silêncio dos pensamentos, na ausência estéril que se pensa fértil. Num mundo sujo sonha-se com a máxima limpeza, é natural. Mas há que distinguir espiritualidade de limpeza, são coisas diferentes e não obrigatoriamente concordantes: de velhos sujos e vagabundos da rua retiram-se lições. Quando estes desejos me parecem incontroláveis lembro-me sempre de um conto indiano no qual um peregrino da verdade, querendo ir sempre mais longe, até ao fim do universo, acaba por sair dele e, olhando para trás, vê que o universo é apenas um animal no qual tinha estado sempre encerrado, estendo-se o nada em frente a ele. O nada mesmo nada. O verdadeiro terror. O “queimar” desse fluxo ininterrupto de imagens (leia-se também sons, palavras, sensações, sentimentos, memórias, etc…) é apenas o início de um percurso. Em seguida, serão queimados resíduos persistentes de todas essas vivências (ou mortes porque ilusões) e essa aparente destruição desembocará em vida, em plenitude, num “cheio”, afinal, não no terror infernal do vazio, no nada, na morte.
Em suma, intui-se que o supérfluo é de facto essencial, porque é ele que nos conduz da simples manutenção à prática artística. O mesmo se passará connosco. O corpo é absolutamente essencial, matéria-prima do corpo de Glória. No oriente, os sábios -- um discípulo sem mestre não faz sentido e o inverso também não -- estão de alguma maneira ligados a uma arte, só assim conseguem a transparência que se espera num mestre: que o discípulo possa ver para além dele. Os processos artísticos em si são misteriosos, inquantificáveis, a solidão extrema, perigosa, isso nos mostram Cristo, Buda, afinal sempre próximos dos outros. Partilhando até o corpo…







.jpg)